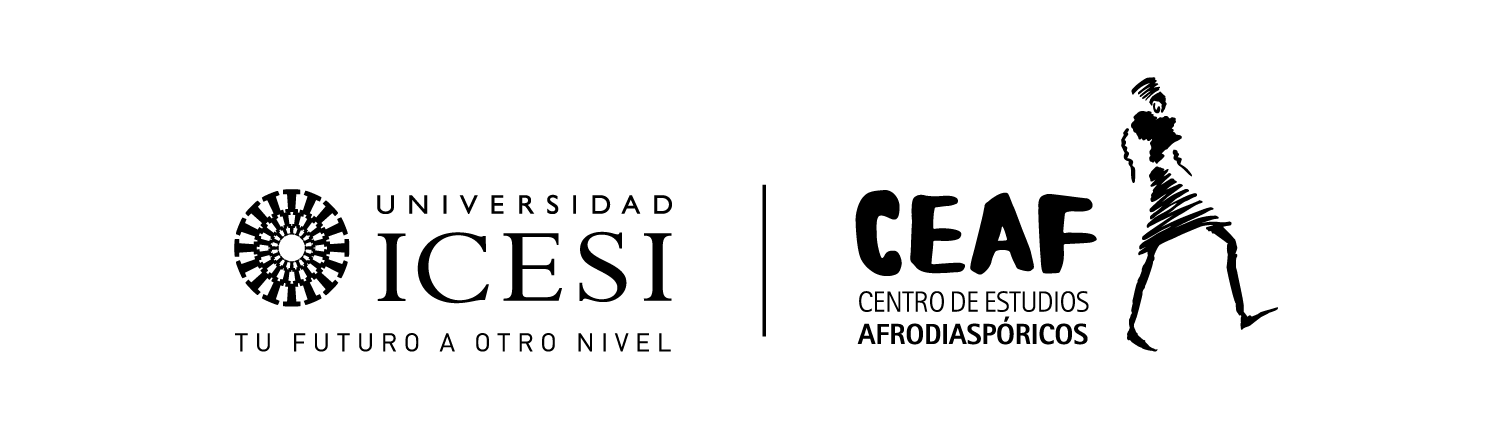“Ser uma mulher negra e ter que fazer negociações às vezes é difícil, porque as pessoas não acreditam em você ou então tentam de uma certa forma dificultar algumas coisas. Tirando isso eu acho que é um grande desafio empreender no Brasil, sendo mulher e negra o desafio fica ainda maior”
– Thais Pinheiro
Thais Pinheiro, mulher negra, empreendedora, pesquisadora, desde a adolescência envolveu-se com o Turismo de Base Comunitária em comunidades quilombolas. Como pesquisadora, ela trabalha com questões relacionadas ao Turismo de Base Comunitária, tema trabalhado durante seu Mestrado em Memória Social na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Essa experiencia culminou na criação do Conectando Territórios, uma agência de Turismo de Base Comunitária que busca conectar pessoas através das experiências em contato com os saberes e fazeres de comunidades tradicionais brasileiras, além de contribuir para a sustentabilidade local e manutenção dessas comunidades em seus territórios.
CEAF: Você poderia nos contar um pouco da sua trajetória enquanto líder social, do contexto e dos processos em que você exerce a sua liderança?
Thais Pinheiro: Eu nasci no Rio de Janeiro, em uma família negra de classe média. Minhas avós vieram do Nordeste, minha avó materna e paterna veio da Bahia e de Pernambuco, e foi aqui no Rio de Janeiro que minha família acabou se estabelecendo. Desde criança nunca tive contato com a história familiar e acabei crescendo em um ambiente branco. Isso também me deixou num lugar onde eu não entendia muito bem o que que era ser negra, o que significava ser negro no Brasil. Eu via muito essas desigualdades, desde criança isso era uma coisa que me chamava atenção porque quando eu saia na rua as pessoas negras estavam sempre em condições desfavoráveis, e os meus amigos tinham como referência pessoas negras como empregadas domésticas, então as pessoas não me viam muito como negra porque estava distorcida a imagem que eles tinham do que era ser negro. Eu sempre ficava me questionando o que era isso, o porquê eu não tive amigos negros quando era criança. Mas meu pai era uma pessoa que conhecia muitas pessoas, meus pais eram separados e ele sempre vinha buscar nos sábados, e ele levava a gente para conhecer outros bairros no Rio de Janeiro, então acabei convivendo com pessoas de diversas classes sociais, de realidades diferentes, realidades que por exemplo os meus amigos da escola não tinham contato.
Eu acho que a minha busca começa também por esse entendimento do que é ser um afro brasileiro, porque tudo que a gente aprende na escola, eu cresci na década de 1980, 1990, no Brasil, e a história Colonial que foi contada, e nessa história a gente estava levando a imagem do negro para uma imagem de inferioridade, uma imagem de violência, sempre coisas negativas que reflete coletivamente na autoestima da população e de questões que também limitam o desenvolvimento. Então eu comecei a tentar entender o que era ser negro no Brasil a partir da história da minha família, da cultura da minha avó que veio de Pernambuco, e eu comecei a aprofundar muito nisso conversando muito com ela, perguntando como era a cultura lá, como é que ela viveu e o que ela aprendeu em relação à religião, música, culinária. E eu comecei a identificar que muitas coisas dentro da cultura brasileira tinham muitas influências africanas, que isso era algo da cultura brasileira por conta da nossa história. Então essa foi a forma que eu comecei a me aproximar do que era ser negra brasileira. Na faculdade, em 2003, no Fórum Social Mundial, conheci um quilombola também e eu fiquei muito surpresa de ainda existirem quilombos no Brasil, porque a história contada sobre os quilombos não está muito relacionada aquilo que realmente é um quilombo, esse entendimento do que é um quilombo não é explicado. Então eu acabei nesse mesmo ano conhecendo a comunidade do Quilombo São José, no Rio de Janeiro em Valença, e fiquei muito surpresa com o que eu tinha visto, com o que eu estava experienciando.
Primeiro porque eu tive contato com o jongo, que é uma dança afro-brasileira que eu também não conhecia, e de repente eu me vi nessa comunidade tendo contato com várias outras comunidades jongueiras do sudeste do Brasil, numa festa de pretos velhos porque ainda era na data da abolição, mas eles fizeram essa festa reverenciando os pretos velhos, uma festa religiosa, cultural. E eu vi tanta beleza ali e fiquei pensando como que a gente nunca teve contato com isso. Então, acho que aí é que começa essa minha história profissional, é claro que tem muitas coisas antes disso, mas acho que os meus processos se iniciam nesse entendimento da identidade afro-brasileira e o que isso representa para o Brasil, essa exclusão da história africana, junto com a colonização nas américas, que refletem no comportamento das pessoas perante toda a exclusão que a população negra acaba sofrendo no pós-abolição no Brasil. Então eu sou formada em Biblioteconomia e Turismo, e fundei o Conectando Territórios em 2014 com esse objetivo de trazer essa história, memória e cultura brasileira e de comunidades tradicionais, porque eu comecei a pesquisar turismo nas comunidades quilombolas em 2010. Então foi durante o mestrado que eu percebi que o turismo podia ser uma ferramenta aliada à educação para o aprofundamento da cultura, de conexão com a cultura, dos territórios, com o entendimento da história a partir dessas experiências. Eu acredito muito que existem muitas formas de a gente aprender, mas uma coisa é a gente aprender no livro e outra coisa é a gente aprender vivendo, e eu acho que muitas coisas que a gente vive no mundo é porque a gente não sabe se relacionar. Enfim, é aí que começa minha história. Depois eu passei por processos de liderança, pensando essas questões do empreendedorismo, dos estudos da paz e agora com esse entendimento maior da questão dos direitos humanos, mas sempre trazendo essa questão da história para o presente, como que a gente consegue transformar o presente.
CEAF: E o que é o “Conectando Territórios”, como funciona e qual é importância desse projeto?
Thais Pinheiro: Então, o Conectando Territórios nasceu em 2013, durante o período do meu mestrado em memória social e pesquisando sobre turismo de base comunitária em bases quilombolas. Assim eu identifiquei que a lei que existe no Brasil de ensino, que torna obrigatório nos currículos o ensino da história da África, afro brasileira e indígena, poderia ser aplicada também no turismo como uma forma de aproximar as pessoas dessa história, da cultura, da memória. Então eu comecei levando estudantes para dar aulas nas comunidades quilombolas do Rio de Janeiro. Com algum tempo, eu comecei a idealizar outros projetos dentro como experiências turísticas, workshops de aprofundamento da cultura. Existe, por exemplo, esse evento que eu falei, “Diálogo da Afro-Diáspora”, que tem esse objetivo de aproximar as pessoas desse tema, para a gente dialogar e se conhecer, cada um trazendo essas experiências.
Eu fiz em Miami um evento perguntando “o que é ser negro em Miami?”, em uma comunidade que é basicamente latina, mas que existem pessoas da afro-diáspora de diversos países; falando não só espanhol, mas inglês, e incluindo os afro-americanos, incluindo os afro-americanos, as pessoas do Haiti (que falam Francês), eu também como afro-brasileira em um lugar onde a comunidade brasileira é majoritariamente branca; tinha pessoas da Colômbia, de Cuba (a comunidade cubana em Miami também é branca). Então a ideia era discutir essa questão da visibilidade, da presença negra nas américas, que em muitos países ainda é invisibilizada. Inclusive, pensando o Brasil, a gente é a maior população, mas a gente não está nos espaços de decisão, a gente não está ocupando espaços dentro da sociedade. Então tem alguns eventos que a gente mistura arte com esses tipos de discussão, então faz exposição, projetos de audiovisual. Tem o projeto “Mapa da Escuta” que eu desenvolvi em 2018 na região da Pequena África, aqui no Rio de Janeiro, trazendo um outro olhar sobre esse território. Existem os roteiros no Rio da Pequena África, que é essa região portuária onde existem o Cais do Balão, que foi o maior porto de africanos escravizados vindo para as américas. Então existem esses roteiros e experiências turísticas, e existe essa série também, Nzinga, Mulheres Viajantes, onde eu comecei a entrevistar mulheres negras. Não é uma web série só sobre viagem, mas também traz a história de mulheres que empreendem seus projetos para outros países e estados, e como elas experienciam ser negra nesses lugares diferentes do Brasil. Conectando Territórios se torna essa agência de viagem que tem essa proposta de aproximar as pessoas e conectar dentro desse lugar da população negra, em relação à cultura, memória, identidade, história; e aproximação dos povos.
CEAF: Ao longo da existência do Conectando Territórios e ao longo de todo seu processo de ativismo, quais foram os maiores desafios que você enfrentou?
Thais Pinheiro: O maior obstáculo é o racismo porque o racismo está na forma como as pessoas te tratam. Então quando comecei isso, já tem sete anos, comecei em um ambiente de homens brancos falando sobre tecnologia na Startup Rio, e eu estava nesse ambiente falando de comunidades quilombolas, uma mulher negra falando sobre comunidades quilombolas, e as pessoas não entendiam. Eu sofri discriminação nesse processo também e durante. Eu acho que é um desafio diário porque ser uma mulher negra e ter que fazer negociações às vezes é difícil, porque as pessoas não acreditam em você ou então tentam de uma certa forma dificultar algumas coisas. Tirando isso eu acho que é um grande desafio empreender no Brasil, sendo mulher e negra o desafio fica maior. Agora vejo mais pessoas negras empreendendo, eu vejo que eu não estou tão sozinha, mas é um desafio grande o que a gente tem pela frente.
CEAF: A gente sabe que o racismo tem diferentes formas de operar, às vezes pelo apagamento, pela negação, etc. Como é que o racismo opera no turismo? Será que existe um olhar diferente para os territórios negros, um olhar do tipo “isso aqui não é um lugar para fazer turismo” ou isso não existe?
Thais Pinheiro: O que eu estou te dizendo é sobre como as se comportam em relação a você e à sua imagem, à imagem formada coletivamente sobre pessoas negras, de que são pessoas violentas, pessoas que não têm tanto conhecimento assim, nós temos vários estereótipos. A gente tá falando da sociedade como um todo, então a gente passa dificuldades como o racismo em todos os setores ou como viajante também. Por exemplo, no aeroporto, quando você está viajando e você chega na imigração, a forma como a polícia de em cara é já de que você é suspeito. Então vão querer abrir sua mala, vão querer fazer 500 mil perguntas, perguntam se você tem dinheiro, se vai ficar lá ou não, sempre tem muito mais barreiras só por você ser negra. Para a gente que é empreendedor, por exemplo, e você quer um financiamento no banco, você também tem todas essas dificuldades, que também então relacionados às questões econômicas. Se a gente não tem acesso a crédito né, como é que a gente cresce? Em relação às comunidades também há racismo, o racismo está aí. Eu lembro de uma turma que eu levei, por exemplo, para visitar uma comunidade quilombola e as achavam que ali era um lugar de candomblé, que era um lugar de macumba. Então as pessoas não queriam ir lá porque elas tinham essas imagens formadas, elas não estavam se abrindo conhecer esse lugar. Então quando eu falo que o racismo está em todas as esferas voltadas a como as pessoas agem perante a você, eu posso fazer uma lista aqui de situações. Uma vez eu contratei um ônibus e o motorista não queria me levar numa comunidade que ele também achou que era uma comunidade perigosa. Então são essas questões que eu estou aqui falando, essas imagens formadas sobre a população negra precisam ser desconstruídas porque isso interfere na forma como a gente é tratado pela sociedade. Enquanto isso não mudar, a gente não vai conseguir avançar. É uma questão de relação humana, além de estar relacionada à estrutura que foi criada, esse racismo estrutural que leva a gente agir condicionalmente em relação ao outro.
CEAF: Nos últimos anos você acha que mudou a forma como as pessoas olham para os territórios negros ou ainda continuamos com essa mesma imagem? E se mudou, o que mudou?
Thais Pinheiro: É difícil de responder essa pergunta porque eu acredito que aqui no Brasil, a gente tem um movimento muito grande de rejeição e opressão sobre a cultura afro-brasileira, muito voltada para as questões religiosas. Alguns movimentos religiosos acabam criando essas imagens distorcidas sobre as religiões de matriz africana, que estão muito relacionadas à cultura. O samba nasce nos terreiros. Acho que existem muitas rejeições ainda em relação aos territórios também porque muitos ainda, certa forma, não só associados a religião, mas acabam também negando essa religião. Nos grandes centros urbanos, nas escolas, pode ser que as crianças agora tenham mais contato com a história, mas no geral acho que não. Na verdade, não é sobre território, é sobre história como um todo, a cultura como um todo. Assim a gente está falando uma coisa maior, sobre a cultura afro brasileiro.
CEAF: Quais foram os impactos que a sua liderança teve no território?
Thais Pinheiro: Eu acho que o impacto maior é ver que existem outras empresas de pessoas negras que estão fazendo a mesma coisa, que estão continuando isso porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro eu fui uma das primeiras, se não fui a primeira, a falar sobre isso, e hoje em dia eu vejo que tem mais pessoas que estão olhando para isso. Então eu acho que isso é um impacto grande. E ir para as comunidades, com certeza, dá visibilidade, você gera economia ali, você está tá incluindo o que foi excluído. É o reconhecimento também, e trazer o valor humano, cultural e da população que existe.
CEAF: Como é que a gente pode mudar essa imagem? Como é que a gente pode pensar as comunidades de outra forma? O que a gente deveria fazer?
Thais Pinheiro: Eu acredito que a única forma da gente mudar isso é a partir de educação. E aí quando eu falo educação, não é somente educação escolar, é educação em todos os sentidos. A gente precisa, sim, aprender sobre as comunidades, aprender sobre a história, ouvir as pessoas, porque a história não foi escrita, então a gente precisa escrever essa história também. Precisa dar visibilidade e precisa de contato humano. A gente só muda o comportamento quando a gente quebra as imagens que estão criadas na nossa cabeça em relação ao outro, quando a gente conhece o outro. Você não pode falar de uma coisa que você não conhece. Então, para mim, a forma da gente mudar isso é se relacionando com o outro, conhecendo as comunidades. Se abrir para isso também, porque se a gente ficar nesse lugar da negação de “não existe racismo”, “não sou racista”, “eu tenho um amigo negro”, nesse discurso, a gente não está fazendo nada para mudar. É um trabalho individual e coletivo, é uma mudança de consciência coletiva para as próximas gerações. Então é isso: educação nas escolas, educação nas empresas, educação nas famílias também, porque em muitas famílias o único contato que elas têm pessoas negra é através de pessoas que trabalham para elas, então você fica achando que todas as pessoas negras são empregadas domésticos, serviçais. Acho que é isso, a forma da gente mudar é se relacionar e se educar.
CEAF: O que você pensa quando ouve a palavra “igualdade”? Como você descreveria a igualdade?
Thais Pinheiro: Essa é uma palavra que é bem complexa porque a gente teria que pensar em qual lugar de igualdade gente tá falando. Se a gente pensa, por exemplo, em sociedades onde as pessoas pudessem ter as mesmas condições de vida, eu acho que ainda não existiu nenhuma sociedade que realmente fosse igual, porque igualdade é essa ausência da diferença, mas nós somos diferentes. Como que a gente vai ser igual? Eu fico pensando sobre a igualdade e o sistema que a gente vive não tem espaço para igualdade. A gente fala muito sobre essa palavra, mas a gente é condicionado a separar então eu não sei de verdade. Eu gostaria que a gente vivesse não numa sociedade, eu não sei se essa é a melhor palavra para a gente falar. Eu acho que de teria que criar uma nova palavra para o trazer esse sentido de igualdade. Acho que o que a gente está é um mundo menos desigual, mas que não necessariamente significa seja igual. Isso porque acho que a gente não vai ter que criar um outro sistema sabe.
CEAF: Como seria esse outro sistema que a gente precisa criar? Como você imagina esse outro sistema?
Thais Pinheiro: Eu imagino um sistema que está voltado para as necessidades humanas, não para as necessidades de grandes indústrias, grandes empresas. Eu imagino um local onde as pessoas são ouvidas a partir das suas necessidades e são desenvolvidas ações para essas necessidades serem atendidas; onde o a relação como tempo né, porque a gente agora vive como se fosse um robô com hora marcada para tudo, gente se desconectou completamente da natureza, da vida, de como as coisas funcionam. Então eu acho que seria um mundo com menos ansiedade e mais satisfação, porque a gente começa a ser ouvido e se ouvir; um local onde a pode ter essa sensação de pertencimento; menos violência, mais diálogo, mais escuto. Eu imagino isso, um mundo onde a gente tenha realmente consciência do que a gente consome, como a gente consome; com uma economia mais voltada para o que realmente importa, para a vida e não para coisas externas (objetos que a gente realmente não tem necessidade deles para viver). O mundo que eu imagino é o mundo onde viver realmente importa. Para isso a gente teria que repensar a nossa existência, teríamos que repensar a nossa forma de viver existir no mundo.
CEAF: Como a sua liderança contribui para construirmos esse mundo? Como é que você, no seu cotidiano e na sua luta, ajuda nessa construção?
Thais Pinheiro: Acho o primeiro passo que eu tenho feito é refletido muito sobre isso na minha vida, no meu dia-a-dia. Eu acho que a mudança começa com a gente para a gente ir para fora. Eu acho que são questões que eu quero trazer também para o mundo, mas são processos que estão em desenvolvimento. Acho importante a gente começar a olhar e refletir sobre essas coisas individualmente e coletivamente. Então eu acho que é isso, é criar espaços onde essas questões sejam discutidas. Acho que isso acaba sendo feito nos eventos de diálogo ou nas ações também, trazendo inconscientemente ainda, mas fazendo com que a gente olhe para essas coisas.