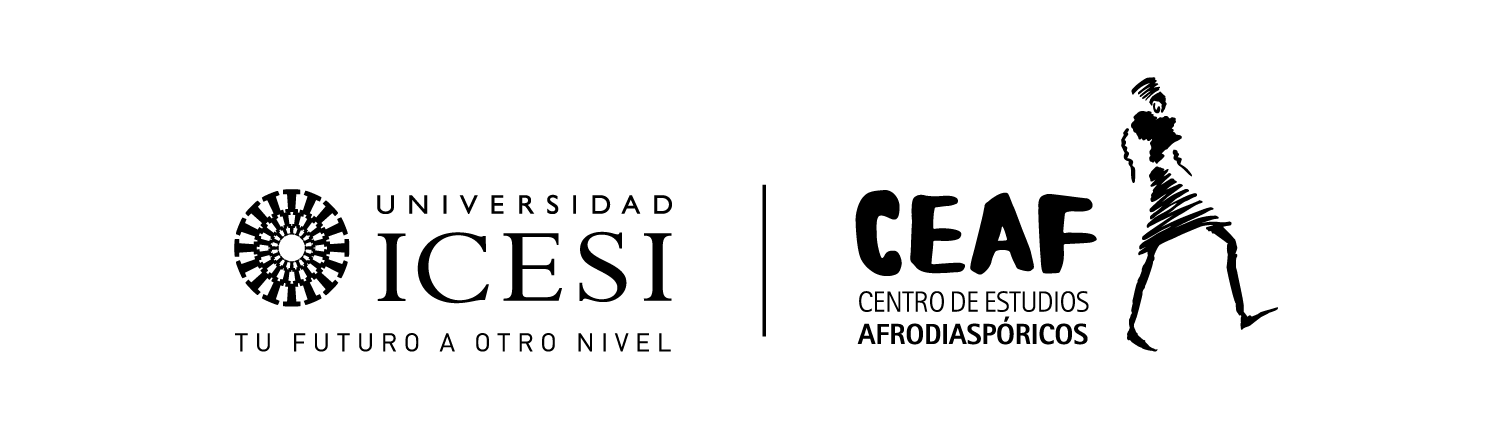“Quando eu penso igualdade e equidade, eu penso justamente como a gente consegue potencializar as nossas diferenças”
– Maicelma Maia Souza
Maicelma Maia Souza mora na Bahia, um dos estados com maior presença afro no continente. Professora, psicopedagoga, pedagoga, mestra e doutorando em educação, ela lidera e milita em projetos voltados para a comunidade acadêmica afro. Atualmente ela é coordenadora do programa de Extensão CAfUNé – Cozinha dos Afetos para Universitárias Negras. Nessa entrevista ela fala um pouco da sua trajetória e da experiência com o cafuné.
CEAF: Você poderia nos contar um pouco da sua trajetória e do seu processo de liderança?
Maicelma Maia Souza: Tudo começa quando a minha mãe decidiu que a gente ia ser católica. A igreja que a gente frequentou, e que ela frequenta até hoje, é uma igreja das Comunidades Eclesiais de Base, então a gente de alguma forma foi inserindo, foi construindo, uma vivência no campo da espiritualidade muito a partir dos pressupostos da teologia da libertação. Então a configuração da minha militância, eu sempre atrelo à minha vivência cristã, pois eu não conseguiria ser outra pessoa tendo o fundamento religioso que eu tinha, porque quando a gente consegue olhar para a sociedade por meio da teologia da libertação, você começa a se entender participante ativo dessa sociedade, a não ser que você queira ser massa de manobra o tempo todo. Quando eu fui para a universidade, eu não sabia que eu estava fazendo universidade, eu só sabia que eu estava estudando. Como eu já estava no processo de liderança das pastorais da Juventude, eu acabei não me constituindo ativista ou militante em outro espaço. Eu acabava dialogando com outras organizações por conta das Pastorais da Juventude.
Aí eu fui para a universidade, fiquei próxima do movimento estudantil, mas eu não militava e não me sentia uma militante do movimento estudantil justamente porque eu já estava envolvida com a militância das Pastorais da Juventude. Então a minha formação foi toda eclesial, eu cresci nesse espaço, amadureci nesse espaço. Enquanto eu estudava e trabalhava e fazia faculdade, mas a minha atividade social toda se deu basicamente a partir da inserção nas pastorais da Juventude, encampando campanhas de defesa da vida da Juventude, políticas públicas para a juventude, como também o diálogo com outros movimentos, movimentos de mulheres, movimento de negros, movimentos indígenas, todos esses movimentos que já estavam de alguma forma dentro da igreja, por meio das CEBs, da teologia da libertação e a gente encontrou também na esfera política. Posteriormente, quando eu comecei a trabalhar como coordenadora pedagógica, eu sentia necessidade de me aproximar do movimento negro, porque eu cheguei na demanda da escola, sem saber o que era ser pedagoga, porque eu estava militando.
Eu fiz o curso de pedagogia, mas eu viajava quase todo final de semana porque eu estava na articulação das pastorais de outras paróquias. Então, eu não tinha maturidade acadêmica, eu falo muito isso quando eu chego no meu primeiro dia de aula na universidade e sempre conto para os meus alunos, eu não tinha maturidade acadêmica e por isso eu respeito o tempo de todas as pessoas, algumas pessoas vão perder na disciplina não é porque não aprendeu, é o tempo da ficha cair. Então, eu não tinha essa maturidade, mas eu gostava de estudar e como nas CEBS e nas pastorais, a educação sempre foi uma bandeira de luta, para mim era muito fácil entender as coisas que eu estava vendo na universidade no campo da pedagogia e embora não tivesse experiência como professora da educação básica diretamente, era muito fácil estudar e entender aquilo, falar sobre aquilo, contar a história, falar do processo de história da educação e entender os autores; então eu tinha sempre muitas boas notas, mas eu não entendia o que era pedagogia na minha vida, para mim eu estava só estudando. Quando eu terminei o curso foi e eu falei “então pedagoga, e para onde é que a gente vai?”, foi que eu comecei a pensar em concurso, eu já tinha experiência como coordenadora de cursinho pré-vestibular, eu tinha sido professora substituta em várias áreas, mas a ideia de trabalhar como pedagoga, isso para mim era muito novo, então eu comecei a fazer os concursos que tinha, comecei a colocar currículo na escola particular e aí quando eu chego em Ipiaú, que foi a cidade onde eu trabalhei como coordenadora pedagógica pública, eu sentia necessidade de estudar sobre relações étnico-raciais e como o movimento negro Mocambodara que era o movimento que, ainda tem as pessoas, então a gente fala que o movimento ainda existe, mas era o movimento que tinha mais próximo de mim em Jequié e que trabalhava com muitas pautas interessantes.
Então como era o movimento que eu tinha mais próximo eu acabei também me aproximando desse movimento para dar conta de buscar conteúdos discussões temáticas para levar para o contexto da escola e aí posteriormente foi que eu fui também aprimorando os estudos no campo acadêmico, fazendo cursos e mais cursos e todos os cursos que tinham, porque a escola começou a fazer sentido para mim quando eu cheguei na escola e aí eu entendi, por exemplo, que era o curso de pedagogia eu entendi o que foi aquilo que a professora falava quando ela dizia de leque foi escrita, processo de alfabetização e letramento, aquilo daquele texto, e eu voltei a estudar tudo de novo porque eu comecei a entender o que era a escola, e aí essas e tudo isso paralelo a militância nas pastorais da Juventude. Então, o fato de eu tá sempre na liderança dos movimentos eclesiais e das atividades de pastoral me fez também entender como funciona a coordenação pedagógica, porque quando a gente liberta um grupo não é você sozinha, você é obrigada a exercitar algumas coisas que você sozinha passa batido que, por exemplo, um desafio para mim hoje, mas você é obrigado a escutar você obrigada a entender que não é só a sua opinião que conta, que você precisa entender quais são as demandas maiores do que é que você vê, quem tá em outro lugar vai trazer outras importâncias outras trajetórias, enfim e como a gente utiliza cada pessoa para fazer o grupo crescer.
Eu lembro que eu comecei na escola pública como coordenadora em 2007 até mais ou menos 2013 -2014 eu estava ainda nas pastorais da Juventude, já estava como assessora, eu já estava na Assessoria, mas mesmo assim eu já estava no mestrado em educação e estava ainda nesse processo de articulação dos grupos, mas também muito mais forte com outras militâncias. Quando eu cheguei em Conquista para o mestrado, a gente começou a articular um grupo de mulheres e feministas negras então a gente já foi para um outro bloco de atividade que era como se fosse a extensão um pouco do Mocambodará que era o movimento negro que eu fazia parte em Jequié, aí eu fiquei nessas duas articulações o Mocambodará em Jequié com aquilo que a gente dava conta de fazer, o feministas pretas da Dior que era esse grupo novo que foi se constituindo a partir da temática de mulheres e fui me afastando mais da pastoral, porque o serviço de assessoria já era uma coisa que eu não dava conta porque a igreja era outra e a gente encarou muito mais dificuldade com o processo de avanço da Renovação Carismática Católica, uma dessas formas mais neopentecostais de pensar e de viver a fé, Então isso aí acabou chocando muito com essa base que eu fui constituída na teologia da libertação.
CEAF: E atualmente quais são os processos que você está liderando?
Maicelma Maia Souza: Quando eu estava no mestrado, eu fui chamada no concurso da UFRB, que é a universidade onde eu sou professora. Eu tinha uma experiência muito diferente de universidade em Jequié e Conquista, porque a universidade é um ambiente majoritariamente branco e toda minha trajetória acadêmica eu era a negra junto com os 5 ou 7 mais ou menos colegas da sala negras e retintas, mas quando eu chego na UFRB, uma universidade majoritariamente negra, eu achava aquilo estranho. Eu falava “gente, essa universidade é estranha, mas eu acho que é por causa da estrutura dela, eu acho que esse pavilhão de aulas e não sei o que” eu ficava olhando as coisas, mas eu não sabia ainda o que era “aí eu acho que é porque é novo é pequeno, então não tem muita coisa, não tem que cara de universidade, não sei o quê”, até que um dia eu estava numa atividade com a professora e ela falou “gente, mas uma universidade negra é outra coisa, não é?” foi aí que caiu a ficha “é mesmo, é muita gente preta, agora eu tô entendendo, é verdade, é isso que eu acho estranho”, é que tipo assim, são poucas pessoas brancas, eu acho que essas pessoas brancas ainda são constrangidas por conta da discussão, a gente discute muito, volta e meia tem uma mesa sobre o debate racial, embora a gente ache que tenha muita coisa comparada a nossa formação, por exemplo, ainda é muito pouco considerado a profundidade do que o debate racial precisa ser feito nos cursos de licenciatura. Com essa realidade eu percebi que eu estava sendo cobrada não como uma professora, mas como uma professora negra, as alunas vinham falar comigo “tu não vais trazer autores negros para a gente pensar didática não” e eu “vou, claro, já tá no meu cronograma” e eu, gente, eu não estudei nenhum autor negro, então como é que vou trazer.
E aí vai eu pesquisar quais autores negros existem, quem pensa didática, quem é que eu posso levar, além de Paulo Freire. O que mais a gente pode trazer, porque a gente estava pisando no chão do recôncavo baiano, é o chão que fala basicamente da Revolta dos Malês, e pulsa Negritude em todos os cantos da Universidade. São seis campus e por mais que tenha um pouco do conservadorismo acadêmico em si, você vai ter uma galera que tá o tempo todo pautando a Negritude nos diversos cursos que a gente tem, então eu tinha alunos que vinham falar comigo “ nós vamos fazer um grupo, tu vai fazer um grupo de mulher para gente falar, para gente conversar não? fazer uma fofoca de estudar, eu quero discutir solidão da mulher negra, afetividade e bora fazer um grupo” eu “bora, mas como é que faz um grupo, fazer um grupo de estudo, mas eu tenho que registrar isso aonde, porque eu era sempre aluna, eu nunca fui professora e o fato de eu estar sempre atuando fora desses espaços institucionais, militando fora dos espaços institucionais, fez com que eu não fizesse ideia da burocracia. E aí quando eu chego na universidade com esse apelo da comunidade eu acabo pensando e construindo a cozinha dos afetos para universitárias negras, que é o Cafuné, ele surge de um banho que eu estava tomando pensando justamente no que é que eu vou fazer, por que eu ia para uma reunião para justamente apresentar uma proposta de atividades e aí eu ficava “Poxa o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer” e durante o banho eu falei “tem que ser alguma coisa que envolva afetividade porque as meninas estão pensando nessa temática e eu não aguento mais falar de militância de falar da violência contra a juventude, eu não aguento mais de falar sobre a violência contra mulher”, por que foi uma discussão que a gente fez muito nas pastorais e dos movimentos negros e no movimento feminista, a gente de alguma forma quando vai para o movimento social fica em torno de muita dor.
Daí eu fui para o cafuné pensando essa outra chave a gente precisa reconfigurar e também por conta de outras leituras, você vai aprofundando Fanon, vai lendo Bell Hooks e vai vendo várias referências que vão construindo na verdade qual é o nosso caminho de re-humanização nessa sociedade, então na perspectiva de devolver para a gente a condição de humano é que eu pensei assim “não, cafuné não vai ser um grupo para gente ficar falando só das nossas demandas existenciais, a gente vai também potencializar nossa forma de ser gente” a gente vai fazer dança, a gente vai fazer culinária, tem que ser alguma coisa com comida, porque eu amo cozinhar, então a gente reúne as pessoas e a gente conversa a gente só come aquilo que a gente acha interessante, então foi aí que eu fui pensando qual sigla seria ideal para falar de afeto, e aí me veio cafuné: cozinha dos afetos para universitários negros, não fechamos só com universitárias negras, a gente cansa de explicar isso, mas como a gente considera a pirâmide racial e a base dessa pirâmide somos nós mulheres negras, todas as questões que envolvem as mulheres negras envolve consequentemente as pessoas que estão acima na pirâmide.
Então a gente é a base dessa discussão, sabe, a gente protagoniza e a gente traz aquilo que nos toca diretamente, que quando toca mulher, toca o homem negro, toca a mulher branca e toca o homem branco, em proporções diferentes, em lugares diferentes. Então a ideia é a gente aproveitar as nossas demandas para pensar não somente os debates que estão insurgentes necessários para toda a sociedade como também uma universidade que seja mais acolhedora, porque da mesma forma em que as alunas vinham procurar em mim uma referência, o que é que a gente vai fazer, como a gente vai articular pensadores negros na universidade, a universidade precisa se fazer aberta para esse público que chega. Então, se eu sou a representante institucional, uma servidora pública que lida diretamente com a resposta institucional, então que eu também apresente uma universidade que acolha essa nossa comunidade. Então a ideia do cafuné é justamente essa, tentar construir uma rede de aquilombamento com os nossos próprios corpos, com a forma que a gente tem de existir no mundo utilizando dos nossos debates para potencializar nossa existência.
CEAF: E qual é a importância desse processo para o contexto da universidade?
Maicelma Maia Souza: Eu acho que a gente passa durante boa parte da nossa vida tentando existir, é aquilo que eu falei, quando eu cheguei na universidade eu só era uma professora, mas os alunos e as alunas me viam como uma professora negra e aí eu comecei ressignificar, por exemplo, eu tinha lido o intelectual negra da Bell Hooks, mas não tinha caído a ficha e o cafuné, bom, ele de alguma forma faz a gente entender que esse nosso passo é um passo em direção a nossa humanização, porque de alguma forma é como se a gente pudesse se reconectar com nossos ancestralidade, se reconectar com a nossa força, trocar experiências, falar de alguns desafios, mas ao mesmo tempo ver os caminhos, então são coisas que eu vejo em meio a muitas dificuldades, trabalhar em grupo nunca é fácil, nunca foi, mas eu ouço coisas das meninas e de outras pessoas também que vão nas atividades e falam assim “Poxa velho eu tava vindo para cá”, teve uma roda mesmo que a gente fez para falar sobre colorimos, na verdade sobre essa coisa de que cor você é, quem é negro, quem não é negro, quem é mais negro.
E aí teve um rapaz, era o namorado de uma das meninas que tava lá, ele ficou calado, ele não falou nada a roda toda e aí no caminho, quando ele tava voltando para casa com as meninas, elas até fizeram comentários no grupo, ele falou assim “gente, eu tô besta que eu fiquei falando a vida toda que eu era pardo para não dizer que eu era negro e agora que eu entendi que pardo é resto, eu não quero mais não, agora eu sou negro mesmo”, isso para gente é alguma coisa tipo, não é um mérito do cafuné sabe, mas assim você percebe a reconexão com sua existência, como que na verdade eu fui manipulado a vida toda a me negar a mim mesmo, então o cafuné de alguma forma é como se fosse o nosso trabalho como professora, sabe, a gente vai plantando a semente da parte daquilo que a gente dá conta de fazer, lá na frente a gente vê o que brota, lá na frente a gente vê de fato o que é que cresce ou não, que tudo tem um tempo, e cada pessoa tem seu tempo. Então a gente não tem a ideia de tipo, vamos transformar essa universidade, vamos fazer isso, vamos fazer não, a gente sempre pensa assim: gente o que vocês acham da gente fazer um negócio assim, agora para gente não vamos ficar nesse coisa de mexer não sei o que, quando a gente vê toma uma proporção tão grande porque assim as pessoas têm sede disso, de fazer algo diferente, que reconecte a gente com a própria existência, a gente usa princípios do quilombismo que nos ajudam a entender a necessidade que a gente tem de não perder nossa humanidade e eu não sei se eu respondi não sei se eu viajei mas eu vejo muito essa potência no comportamento das pessoas, principalmente na nossa comunidade negra.
CEAF: Bom, o nosso projeto pensa a questão da igualdade e da equidade, como é que a gente pode alcançá-la? Aliás, quando você escuta a palavra igualdade ou equidade, no que você pensa? como você descreveria isso agora?
Maicelma Maia Souza: Quando eu penso igualdade e equidade, eu penso justamente como a gente consegue potencializar as nossas diferenças, porque inclusive o próximo evento da gente é isso, a gente vai convidar a minha orientadora que discute diferença, infâncias e diferenças, e uma escritora que trabalha com literatura infantil pensando justamente... esqueci o nome, eco ancestral, acho que assim, a pessoa que ativa a eco ancestral de pensar prática educativa, é você voltar para perspectiva ancestral e potencializar essas vozes que estão agora, sobretudo as vozes das crianças. E o tema dessa mesa é a escolarização e a diferença como pedagogia, é possível sair do discurso do eu trato todo mundo igual, é que a gente não trata as pessoas de forma igual, e isso é uma coisa que eu trago muito da minha experiência como coordenadora pedagógica.
Eu sou professora de currículo e didática nos cursos de licenciatura da UFRB, mas de 2007 até 2015, oito anos eu tava atuando diretamente com educação básica e o que eu mais ouvia das professoras, quando a gente ia falar sobre essa discussão de pluralidade cultural, de multiculturalismo, de racismo no ambiente escolar, elas diziam “Graças a Deus que comigo não tem isso, trato meus alunos tudo igual” a gente já ficava assim, o problema tá aí, porque que as crianças que a gente sabe que foram negados e privadas de afeto, de família, de estrutura familiar ideal, de meios de lazer, de comunicação, enfim... elas precisam de um tratamento diferente, elas precisam, elas clamam para serem olhados de uma outra forma, eu tinha aluna, que quando eu passava toda segunda-feira, quando eu era coordenadora, como era não era a professora, eu queria ter contato com as crianças para eu conhecer as crianças, conhecer as famílias, então eu passava nas salas toda a segunda e terça para dar bom dia, para ver como foi o final de semana, para saber o que é que eles tinham feito e tal, para abraçar, enfim para dizer que eles estavam lindos e cheirosos.
Eu ia de sala em sala, e aí teve uma escola que eu fui coordenadora de educação infantil e tinha uma menina que ela se chamava Mariana, e ela era pretinha, bem retinto mesmo, de você ver aqueles olhos, o branco dos olhos, a pele bem lustrosa e ela vinha com aquele cabelo de Maria Chiquinha, mas toda linda e toda silenciosa. Mariana não abria a boca para nada que é muito comum muito como eu tô com as Minhas alunas na universidade e elas vão narrando a vida delas e dizendo eu não tinha costume de falar eu tinha medo de errar e isso é muito comum da nossa população, a gente é colocado como pessoas que não falam, que não sabe falar, que não sabe pronunciar o português correto enfim, e aí eu passava nas salas, ela não falava nada comigo, mas ela parava na minha frente toda vez que eu chegava na sala abria a porta: Bom dia, Bom dia comunidade da pro Cláudia, Bom dia comunidade da pro Raissa, Bom dia comunidade, aí todo mundo vinha me abraçando, ela esperava todo mundo sair e parava na minha frente, ela não me abraçava, ela não me respondia nada, ela não falava nada comigo, ela só parava na minha frente e aí eu: Bom dia Mariana, cada dia você tá mais reluzente mais linda, eu só quero ouvir o seu beijo aqui na minha bochecha. Então eu ia de alguma forma chegando nessas pessoas sabe? Qual que era pergunta?
CEAF: Como você descreveria a igualdade e como você pensa a igualdade?
Maicelma Maia Souza: Eu cheguei nessa história, porque eu viajo para caramba. Então como que eu não vou entender que Mariana claramente tava pedindo uma coisa que todo mundo fazia com naturalidade, todo mundo corria e me abraçava, Mariana não conseguia abraçar, mas ela parava querendo abraço, querendo ser vista, querendo aconchego e a professora falava isso comigo ela dizia: “gente precisa de ver, Mariana não abre a boca para nada, mas é tu chegar ela vai” E aí eu falei “ela tá esperando que você faça a mesma coisa, vai até Ela”. Porque eu tinha professoras que falava assim ó “eu não trabalho com educação infantil porque tem que botar todo tipo de menino no colo eu não aguento isso” aí eu falei “isso é verdade” e eu gosto quando a professora faz isso porque tipo, esse tratar todo mundo igual significa isso, significa entender que todas as pessoas precisam de carinho, todas as crianças precisam se sentir acolhidas com tudo o que elas têm e tudo que elas têm é o corpo delas, eu chego na escola com tudo isso aqui, e se tudo isso não serve para nada eu vou crescer achando que eu sou o quê, então a gente tem um tempo todo esse processo de entender qual que era minha potência como professora e qual era a potência dos estudantes como estudantes, como pessoas que eram, não tinha como eu dizer para elas: Olha você tem que beijar todo mundo, tem que beijar todo mundo não, agora vocês têm que entender que todo mundo espera um beijo.
E aí você ao invés de vocês configurar princesinha para fulana que a gente já sabe o que é princesa, configura princesa para beltrana que nunca foi princesa na vida e que só vai aparecer na semana do treze de maio ou da consciência negra, então traz fulana para o centro, é uma reorganização pedagógica, quando você pensa na diferença. Todas as pessoas são diferentes, todas as crianças são diferentes. Então para que eu consiga tratar igual, elas precisam se sentir iguais, elas nunca foram tratadas como iguais. A pedagogia da escola, a nossa pedagogia da universidade nunca é de tratar as pessoas como iguais, então eu faço um movimento contrário de pensar que potencializar as nossas diferenças é o que configura na verdade a nossa humanidade e a nossa diversidade, a nossa beleza de pertencer a um grupo e pensar a partir de várias demandas e de vários lugares.
Eu penso que reclamar igualdade seria na verdade reclamar e equidade sabe? É você entender que algumas pessoas, e isso era uma coisa que por exemplo para gente não tinha esse nome equidade, mas a gente falava muito no tempo das pastorais para justificar a nossa relação com as pessoas marginalizadas, a gente se utilizava muito das primeiras comunidades cristãs que trazia uma passagem que falava assim “a gente repartir segundo a necessidade de cada um”, então a noção de justiça que a gente tinha não era no sentido de eu tenho cem reais e eu vou distribuir esses cem reais igualmente para todas as pessoas, se eu tenho uma família e que nessa família tem três crianças e uma delas é uma criança com deficiência física, ela vai precisar comprar a muleta ou vai precisar comprar uma cadeira de rodas, então eu não posso achar que eu dar cem reais é pra todas as famílias significa justo, significa ser justo, por que algumas precisam de mais, outras famílias não têm filhos, outras famílias são monoparentais, então eu não posso achar que distribuir igualmente significa ser justo ou fazer a justiça acontecer, ao nosso padrão de Justiça, justiça sempre foi segundo a necessidade de cada um. Então essa lógica de pensar equidade hoje eu acredito que seja muito isso; todo mundo quer se ver como um ser humano, todo mundo quer se ver na sua existência e mais algumas pessoas para conseguir alcançar esse lugar, elas vão precisar de mais do que outros.
CEAF: E como seria a universidade se vivêssemos nesse espaço equitativo?
Maicelma Maia Souza: Só teria preto, estaria ótimo. Eu acho que essa é a primeira etapa, porque é a mesma coisa quando a gente vai para uma sociedade quando, eu sou professora de currículo didática, então eu quando eu trago para a gente pensar uma pedagogia feminista, não é no sentido de que tem que tirar os alunos da escola, tem que excluir o que é masculino, não é, mas é da gente pensar o mundo a partir da visão de pessoas que não foram que não foram configurados como sujeitos da própria existência. Então a gente pensa o mundo pelo olhar masculino, a gente vê o mundo pelo olhar masculino, a gente projeta os nossos sonhos a partir do olhar masculino. A pedagogia feminista faz a gente incluir o olhar feminino. Os homens eles se matam com muito mais força e com muito mais frequência do que as mulheres. Esse olhar masculino ou essa construção de masculinidade que organiza a nossa existência não é uma construção sadia. muito pelo contrário. ela tem se mostrado cada vez mais nociva. Então a ideia é a gente entender que todas as pessoas, do seu lugar, elas constroem também existências que são mais possíveis de acolher outras realidades. Então eu acho que esse lugar em que a gente pode viver é um lugar mais plural, é um lugar onde a gente não considere uma única verdade como um padrão inalcançável a ser alcançado, porque todas as pessoas não são homens brancos cristãos heterossexuais, então não tem como você querer alcançar aquilo que biologicamente, culturalmente, filosoficamente a gente não é. A ideia desse lugar plural é a ideia de a gente entender as diversas formas de existências que podem coexistir. O mundo, as plantas, os animais dão lições para a gente na cara. A gente vendo a forma como a própria natureza se organiza, a gente entende que a gente nasceu de fato para coexistir e não para existir matando o errado e deixando viver o certo, como essa lógica que a gente tem ocidental. Eu penso que esse lugar é o lugar onde a gente vai é já está em harmonia com todas as existências.
CEAF: Por que você é uma voz da igualdade?
Maicelma Maia Souza: Acho que é porque eu acredito nas nossas diferenças. Eu acredito no quanto a gente é potente, o quanto a nossa ancestralidade forjou a nossa própria vida, pensando em cada potencialidade que a gente tem especificamente. Por exemplo, as religiões de matriz africana, elas são lotadas de pessoas brancas, mas as pessoas brancas não podem, de jeito nenhum, não serem antirracistas naquele espaço; é um espaço que hoje foi muito mais tomado pelas pessoas brancas acadêmicas por conta do acesso, por conta dessa coisa de que quem tem acesso ao conhecimento institucional hoje, mas o fundamento da ancestralidade é africano. Então essas religiões de matriz africana ensinam para os descendentes de África, sobretudo no processo diaspórico, como a gente ressignificar a nossa existência. Então não tem uma ancestralidade como padrão, como modelo, como referência. Todas as pessoas que se configuram como ancestrais são exemplos a serem seguidos e eu acredito que quando a gente pensa nessa perspectiva, ser tratado como igual é ser tratado como um humano que nós somos, com as nossas formas de vida, com a nossa forma de pensar a nossa felicidade, o nosso propósito, com essa perspectiva de reconhecer em nós a nossa potência abundante de viver a nossa vida e a nossa felicidade, a nossa riqueza, o nosso poder, e em harmonia com a outra riqueza, a outra existência, o outro poder. Eu penso que a nossa voz ecoa e ressoa; ela ecoa a partir daquilo que me faz e ressoa aquilo que eu consigo fazer junto com outras pessoas.