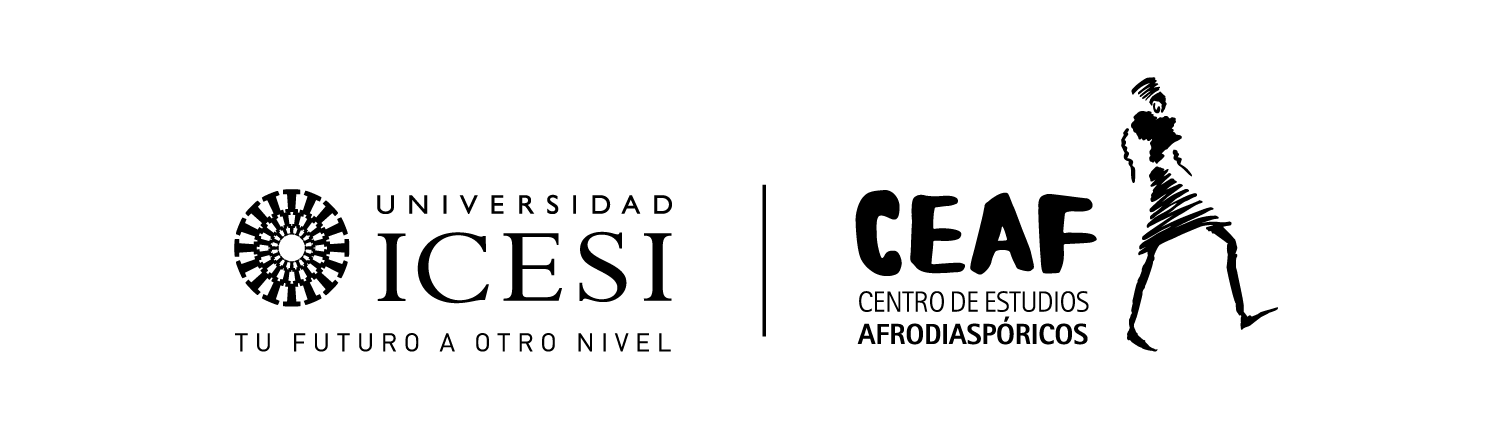“A gente como pessoas negras, a gente fala para além das dores, claro que a gente sabe que a gente tem dores, quem é que não tem dores, a gente sabe que existe uma série de violências, mas a arte tá para além disso, é importante denunciar, importante usar essa ferramenta que ela é uma ferramenta muito potente, ela abre caminhos para cacete, mas eu sei lá, eu tenho meu processo familiar, eu tenho meu processo de vida, eu tenho meus amores, eu também tenho outros processos, para além da militância política”
– Emilly Cassandra
Emilly Cassandra, do Pará, há mais de 10 anos trabalha com a arte. Atriz, performer, integrante do coletivo de trans artistas Trasamazones, também representa a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH) no Comitê de Enfrentamento à LGBTfobia junto à Secretaria de Segurança Pública do Pará. Nesta entrevista Emilly narra um pouco da sua trajetória enquanto militante, artista, ativista e mulher trans.
CEAF: Emilly, você pode nos contar um pouco da sua história, da sua trajetória de vida? Como você se tornou uma militante, uma ativista e uma liderança?
Emilly Cassandra: Eu comecei muito cedo o meu processo de militância, antes de saber que eu era militante, porque eu venho de um bairro periférico, eu moro em bairro periférico ainda, mas não no bairro que eu nasci, então no bairro que eu nasci aconteceram muitas chacinas, que são assassinato de jovens negros e é isso realmente, a maioria eram jovens negros. Então desde esse período eu já questionava, principalmente em épocas de eleição, que os deputados e vereadores iam muitos no bairro onde eu morava, que por ser um bairro populoso é um bairro que que garante muito voto, então já cheguei a confrontá-los em relação a isso; isso com os meus 13 anos de idade, mas além da militância, além dessa militância, quando eu me entendo militante é quando eu começo a partir do teatro discutir a questão de Belo Monte que é uma usina hidrelétrica construída aqui na Amazônia, no Estado do Pará, e enfim, uma construção que tava dizimando várias comunidades tradicionais como povos indígenas, tirando suas terras, como os povos quilombolas, enfim, além dos povos tradicionais, dos pescadores que moravam ali, que tinham comunidades específicas, então estava acabando com os espaços nas proximidades do Rio Xingu, que é onde se localiza a usina hidrelétrica de Belo Monte.
Então daí é que começa a minha luta realmente, através da arte, é ali também onde eu levo a arte como uma denúncia, dessas problemáticas sociais. Belo Monte foi o estopim, onde eu viajei, consegui chegar na transamazônica, estar do lado de quilombolas que lutavam pelas suas terras. Eu acho que é mais ou menos isso, isso aí é o início né, o início a partir das artes, tem a parte do teatro e principalmente na linguagem do teatro, a linguagem do Augusto Boal, o teatro do oprimido. Então eu consigo a partir do teatro do oprimido ressignificar histórias, de refazê-las para que eu pudesse realmente trazer histórias do meio da Amazônia, do Estado do Pará, onde pouco se dizia nas mídias convencionais, e a minha voz deram um porta-voz, o meu corpo era uma forma de mídia, pro social, para Belém, para região metropolitana, que é essa cidade grande, metrópole, capital e tudo, então eu podia fazer, junto a outras pessoas, essa comunicação mais aberta a partir da arte. A partir daí inicia o meu processo histórico de militância.
E eu acho que é mais ou menos isso assim, e daí como o processo de transição. Eu passei pelo processo de transição aos 20 anos, eu comecei também a fazer uma militância, de olhar muito mais para a população de travestis e transexuais negras, e saber também que infelizmente a gente vive um processo de encarceramento, a gente vive um processo de assassinato, este país ainda é o país que mais mata travestis e transexuais, 70% das que são assassinadas são mulheres negras. Eu passei a questionar isso também através da arte, e para além da arte, através das instituições que eu fazia parte, de ongs que eu passei e que contribuíram bastante para que eu pudesse estar questionando isso do meu local aqui pro estado. Então o estado enquanto instituição se tornou responsável também a partir dos meus questionamentos, da questão principalmente do encarceramento, foi um dos pontos chaves para mim, foi o encarceramento, essa discussão eu tô levando muito a fundo, por conta da minha população também, que e é negra e que é travesti.
CEAF: Você está falando de uma região do Brasil que historicamente construiu uma imagem de ausência da população negra, você alguma vez sentiu isto, a que se deve essa construção?
Emilly Cassandra: Inclusive para gente aqui, é até triste, porque a gente, eu sou muito questionada em alguns espaços, aquela pergunta clássica, você é de Belém mesmo, você é do Pará mesmo, você é aqui do Norte, ou você é da Bahia, você é maranhense, que é onde realmente cresceu muito a população negra de pele retinta, só que aqui a gente tem, eu não lembro qual foi o ano exato, mas o Estado do Pará foi o estado que mais declarou enquanto pessoas negras, eu acho que depois da Bahia é o estado que mais tem pessoas negras autodeclarados. Então é muito importante, é um avanço assim, pra gente saber que aqui a gente não tem só indígena, realmente a gente também tem indígena, a gente também luta junto a esses povos, mas eu acho que aqui no Pará a gente tem uma grande quantidade também de quilombos ainda existentes, remanescente quilombolas que ainda vivem e lutam pelas suas terras, e a sua maioria sim são pessoas negras de pele retinta. Essa cultura de acreditar que o Norte não tem pessoas negras, eu acho bem estranho, e é uma coisa bem excludente, na verdade nos excluem de buscar políticas mesmo para nossa população, sabe, politicas raciais para a população negra do Estado do Pará, do Estado do Amazonas, Do Acre, de Roraima. Sabe?
Essa negação ela é muito forte, até para gente, tanto que a gente vive no Pará com uma ideia de ao invés de nos dizermos negros e negras, a gente vive com a ideia da terra morena, que é essa negação mesmo da cor da pele preta, a gente nega a nossa ancestralidade, e a gente não lembra de pessoas que foram fundamentais, que construíram esse estado. Uma grande revolucionária na época da escravidão foi a Felipa Maria Aranha, que foi uma mulher que foi uma das revolucionárias que chegou para criação e para a manutenção de grandes quilombos no Estado do Pará, então a gente infelizmente não tem esse estudo da história mais aprofundada sobre as nossas raízes negras e revolucionarias. Eu tenho uma contação de história para crianças que fala sobre a Felipa Maria Aranha e eu fui premiada nessa contação, no prêmio Zélia Amador de Deus de cinema negro paraense, que é exatamente contar as nossas raízes para a infância, que é realmente quem vai repassar todo esse conhecimento histórico negro nosso, né, paraenses e nortistas.
CEAF: Emilly, ao longo da sua trajetória, ao longo do seu processo de militância, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou ou que ainda enfrenta nesse processo?
Emilly Cassandra: Olha, então, são várias na verdade, o que passa é que as dificuldades principais sempre foi um emprego. O trabalho, me manter viva, com uma renda fixa, isso é um processo que não é só meu, eu vejo muitas meninas travestis pretas, mulheres negras, a gente tem muita dificuldade. O meu processo de trabalho foi muito parecido com o da minha mãe, eu trabalhei por um tempo em algo que eu não queria, mas que eu fui obrigada, porque eu precisava de dinheiro, que é o trabalho de diarista e empregada doméstica, então eu ganhava muito pouco, ganhava tipo, eu pagava aluguel, eu sempre paguei aluguel desde os 19 anos quando eu saí da casa da minha mãe, então desde quando eu saio de casa da minha mãe eu enfrento muitas dificuldades financeiras, mas isso é muito mais no passado, hoje eu tenho emprego fixo. Eu trabalhei em alguns lugares que me deixaram bem tranquilo, né, mas enfim, eu enfrentei muita dificuldade e uma delas foi a questão financeira. Então já fui muito humilhada, processo de trabalho de empregada doméstica, de ser faxineira, as pessoas não respeitarem e não respeitar o teu processo, pagarem muito mal, enfim, de forma sub-humana mesmo, um valor irrisório, e tirar ainda do meu almoço, ainda da minha passagem e isso não fazer muito sentido. Outras dificuldades foram no processo de transição. Quando eu passo o processo de transição para mim, eu vejo uma grande dificuldade de existência, porque eu já fui muito ameaçada na rua, então eu basicamente digo que a gente quando passa pelo processo de transição enquanto travesti, a gente passa por um processo de sobrevivência, nos mínimos detalhes, a gente é tirada de chacota na rua, a gente tem que correr de homens na rua que quando percebem que a gente é travesti, já chegaram a me ameaçar do outro lado da rua, pessoas bebendo e homens correram com garrafa pra gente.
Então, são violências que me deixam, me marcam muito, sabe, porque a gente briga por uma existência que eu acho que, essa é palavra, brigar pela existência, para existir de forma humana, tranquila, e pessoas trans e travestis, sobretudo negras, que algo que eu escutava muito e aí eu vou deixar bem enegrecido aqui, que uma coisa que eu escutava muito, viado e ainda é preto e feio. Então essas narrativas, essas desculpas, esses processos bem complicados que machucam, não físico necessariamente, mas machucam o psicológico, que é um dos processos bem mais dolorosos, que eu passei na minha vida, eu ainda tenho um processo muito bom, que eu tenho a minha irmã do meu lado, sempre tá do meu lado, a gente saiu de casa juntas, mora juntas há muitos anos, então eu ainda tenho um apoio familiar que é minha irmã, muitas manas não têm, então eu acho que um dos processos mesmos foram esses, aí sabe, mais tenso. Hoje em dia eu sou muito mais tranquila, eu trabalhei, não que eu deixe de passar por processos transfóbicos, mas eu sou muito mais tranquila, porque eu tenho emprego fixo, eu tenho uma renda, eu penso como me manter, enfim, eu tenho condição de quando saio, pego um carro particular, peço um aplicativo, eu tenho uma segurança muito maior e primo por minha segurança, por tudo o que eu já passei, então eu acho que é mais ou menos isso.
CEAF: E dentro desse processo, dentro dessa dor, desse desconforto que você mencionou, levando em conta a interseccionalidade que você mencionou, trans e negra, e você disse que sobretudo por ser também negra, pela imagem que se tem das pessoas negras, como é que você lidava ou como é que você lida com esta dor, com esse desconto? Quais foram os mecanismos que você encontrou para poder superar essas coisas?
Emilly Cassandra: Então, na verdade para eu superar isso, é difícil, eu na verdade tentei criar, em alguns momentos da minha vida, eu acho que a arte é um foco principal para tudo para mim, sempre que eu tô muito triste. Aqui existiam muitos encontros de artistas, e nestes encontros eu sempre buscava decorar poesias para recitá-las, enfim, para ver se eu tinha esse momento de respirar, além de performances que eu criava mesmo. A gente, eu com a minha irmã e outras amigas, a gente construiu alguns grupos e um deles foi “a coisa”, que foi um grupo que a gente realmente discutia sobre machismo, sobre LGTBQFOBIA, enfim, sobre as violências sociais e isso também me tornava um pouco mais forte, pra resistir a esses processos, para encarar de frente e acho que uma das coisas que eu não vou mentir que me deixava também fortalecida para sair à rua todos os dias, mesmo quando não tinha muita grana para andar de aplicativo e tudo, eu andava com materiais cortante na bolsa, tipo facas, isso é uma coisa que a gente se protege, hoje em dia eu não ando mais, mas assim, na época e ao conversar com mulheres travestis e trans que se prostituíam a noite, de mulheres que encontrava pela rua, a maioria dizia que era o mesmo processo, então é única forma que a gente consegue se sentir minimamente aquecida, caso aconteça algo a gente consiga reagir, não é a melhor forma, não indico para ninguém jamais, eu acho que, mas enfim, eu sempre indico hoje em dia para algumas manas que eu vejo que estão em vários processos, a gente construiu um grupo aqui em Belém, que é um grupo transamazônicos, que é um grupo de pessoas trans artistas, que é para a gente discutir sobre as violências cotidianas, além dos processos artísticos que a gente faz e a gente sempre posta e tenta conversar com outras manas sobre apoio psicológico, a gente tem as universidade daqui, tem um espaço de atenção ao apoio psicológico de cada pessoa, então a gente sempre tenta acompanhar algumas manas, a gente faz acompanhamento em delegacia também, para denúncias, então a gente tem que ver se a gente abre outros leques de possibilidade, para que a gente não gere violência também sobre a gente, para os nossos corpos. Então eu acho que a minha forma também foi essa, de me juntar com outras pessoas para tentar fazer para outras pessoas mais ainda, sabe, acho que é mais ou menos isso o me deixou mais tranquila, ver processo artístico, ver que outras travestis e outros homens trans também fazem arte, que são negros e que são da Amazônia, e isso me deixou mais tranquila.
CEAF: Quais foram os impactos que a sua liderança atingiu, quais foram os espaços que você já conquistou?
Emilly Cassandra: Eu sinceramente não me vejo como uma líder, eu não acho que esse papel me caiba necessariamente, mas eu sou uma contribuinte, colaborada, com algumas pessoas, a gente consegue se sentir, eu acho que líder tá muito a frente, alguém que toma a frente e é um nome, um referente e eu não me vejo nessa posição, mas assim, eu consegui, eu acho que de forma coletiva, eu acho que acabei já falando um pouquinho é isso, eu consegui reunir pessoas, criar meio que coletivos que estejam em ação, em prol de outras pessoas, isso foi bem significativo para mim, principalmente nesse processo de pandemia, eu acho que as pessoas, a gente conseguiu se olhar mais enquanto pessoas trans aqui em Belém e outras de outras cidades aqui do Pará, a gente conseguiu abarcar também uma galerinha do interior e isso foi mara também, eu acho que foi bem positivo , agora no pessoal eu não sei, é porque são tantos e eu também não consigo definir muitos, eu não sei.
CEAF: Você disse que não se considera uma líder, que não se vê nesse papel, mas vamos pensar no processo de liderança e pensando no contexto do Brasil atual, você acha que a liderança tem que ser uma coisa individual, personalizada ou deveria ser mais coletivizada?
Emilly Cassandra: Eu acho que pensando a atualidade do país, a gente tá no processo bem complicado. A gente já vinha num processo assim complicado, principalmente aqui em Belém do Pará, na verdade em todo o Brasil, a gente tem muitos problemas enquanto ativistas mesmos, que fazemos atos na rua, que fazemos campanha, e uma série de coisas, com a polícia. Então a gente sempre teve problema com a polícia e principalmente em ações que a gente fez, sempre a maioria das pessoas presas a maioria eram negras, e a maioria das pessoas negras presas, a maioria eram mulheres negras. Então a partir daí eu comecei a pensar, e daí sempre eles tentavam pegar uma pessoa como líder e geralmente existia essa pessoa, que realmente movimentava toda uma rede de movimento, então a gente, eu comecei a pensar que não faz sentido ter uma pessoa, porque eu acho que a gente consegue se articular, tipo várias pessoas conseguem se articular muito mais.
A gente vive nesse estado que é um país, o Pará praticamente é um país, de tão grande territorialmente. Então as articulações não devem ser feitas isoladas, a gente consegue em redes articular muito mais pessoas e aí eu acho que tem tanta gente com uma potência incrível, sabe, que enfim faz muita movimentação, consegue fulano de tal, consegue compartilhar isso para muita gente, que eu fico, gente isso é maravilhoso, sabe, essa quantidade de gente se movimentando sem ter uma pessoa especifica, né? E todo mundo consegue se ver enquanto liderança, isso eu acho muito mara, que é a questão da, a questão desse olhar, eu vou usar uma história aqui, de se olhar em roda, porque quando a gente se olha em roda, a gente vê igualdade e a gente olha o rosto, o olho de todo mundo que tá aí na roda, a gente consegue olhar por igual. Eu acho, essa construção é a que eu busco e que eu vejo que está construindo muito atualmente, né? Acho que a juventude tem aumentado muito nessa forma de liderança, sem ser uma, mas uma coletividade. Eu acho que o coletivo a gente consegue muito mais coisas, mas história, acho que é mais ou menos isso, o coletivo é muito importante.
CEAF: E hoje em dia, Emilly, atualmente quais são os processos que você lidera? Você falou da arte, poderia especificar, contar um pouquinho mais.
Emilly Cassandra: Então, na verdade hoje em dia eu tô mais fazendo, porque eu dei uma pausa, eu acho que é meu último trabalho que eu tô trabalhando fora, eu tô trabalhando no interior, trabalhei com algumas comunidades quilombolas e reservas extrativistas, que foi em 2018 que eu trabalhei na comunidade quilombola que fica aqui próximo da região metropolitana, acho que é uma das únicas comunidades quilombola que tem aqui perto de onde moro, a comunidade do abacatal. E aí, eles estavam no processo de reconhecimento da negritude, exatamente a partir do teatro do oprimido, o processo de negritude, em volta desse processo, de negritude e de reconhecimento das suas raízes. Eu trabalhei com algumas pessoas de reservas extrativistas, né, a reserva extrativista, ela iniciou quando, acho que eu vou utilizar revolucionário porque eu não tenho outra palavra, o revolucionário Chico Mendes conseguiu com que fosse criada a reserva extrativistas, tanto no Acre, como na região da Amazônia, e o Para não ficou de fora disso.
Então eu fui dar, ministrar também uma oficina de teatro do oprimido, nessa perspectiva de reconhecimento da identidade negra e a gente conseguiu coletar várias violências, inclusive deste esquecimento dos mais velhos, foi um processo bem bonito, aí a gente acabou trabalhando no processo de lgtbqfobia também, esse mesmo processo a gente conseguiu juntar. Hoje em dia eu trabalho, trabalhei numa ONG chamada STDH, que é uma ong que trabalha com direitos humanos, principalmente contra o encarceramento de massa, numa perspectiva mesmo de desencarceramento, enfim, um pouco pensando em audiência de custódia e nessas coisas mais do jurídico mesmo e a minha situação foi dentro de um comitê, de um comitê chamado comitê de combate à lgtbqfobia, que é onde eu pude questionar as condições das pessoas negras LGBTIQ, sobretudo travestis e trans pretas, e que a gente não tinha dados sobre violência, sobre estupro no cárcere, uma série de coisas que acontece com essa população, enfim, então basicamente é isso, hoje eu ocupo um cargo na prefeitura municipal de Belém e é como coordenadora adjunta da diversidade sexual deste município. E aí a gente também tá nesse desafio de construir políticas públicas sobretudo voltadas para a população negra, essa é a perspectiva da coordenadoria, né, a entende que a questão do racismo em Belém, ela é muito grande, até porque como eu não te falei é uma terra que é conhecida como cidade morena, então a gente tá nessa perspectiva também da população LGBTIQ se reconhecer enquanto população negra e para além disso, né e políticas públicas voltadas especificamente para essa população, acho que mais ou menos isso.
CEAF: E quais são, a partir deste lugar de fala de pessoas negras, de pessoas trans, as reivindicações que devem ser feitas?
Emilly Cassandra: Olha, eu acho que a gente vem de um avanço, assim, quando eu penso hoje, pessoas trans, pessoas trans e travestis negras, a gente vem de um avanço, claro, isso no supremo, no Supremo Tribunal Federal a gente vem de um certo avanço, e garantias de direitos, como a retirada de nome social, isso é fundamental, isso é muito importantíssimo na verdade, sem que a gente passe por todo o processo burocrático de discussão, se o juiz vai decidir que a gente deve tirar ou não, se eu fiz cirurgia de redesignação ou não, então não define mais disso, qualquer pessoa trans ou travesti pode fazer a retirada de nome, então a gente tem alguns avanços. Agora a gente não tem dentro da constituição federal algo que nos ampare de fato, acho que o senado e o congresso federal não têm discutido a colocação da gente enquanto pessoas lgbts, porque a gente entra no geral, pessoas lgbts como lei, sei lá, a gente tá com uma lei de LGTBQFOBIA aqui no Brasil que é a lei de racismo, a gente entra na lei de racismo, então qualquer LGTBQFOBIA é caracterizada como racismo, quando a gente tem que entender que é o racismo social, acho que isso, são os pequenos avanços que a gente tem, acho que a gente não tem algo mais concreto, algo mais palpável, específico para comunidades lgbts, em relação à população negra, enquanto travesti negra, a gente não se vê nos espaços, nós somos pessoas invisibilizada de fato, porque a gente não tá nos espaços comerciais e espaços comerciais que eu digo, televisivos, enfim, espaços que a gente possa reconhecer, que também é uma pauta da população negra e que foi um avanço aqui no Brasil, enfim, da gente ter profissionais em televisão, telejornais, apresentadores, isso também ajuda, em novelas, enfim, da gente ver a população de fato, ver que nós somos, nós somos a maioria negra.
Enquanto travesti a gente não se vê, a gente tem recentemente que a primeira travesti eleita no país, em São Paulo que foi a Erika Hilton, e a Érica Malunguinho, que também são duas referências incríveis de mulheres, elas fortalecem a gente, mas são invisibilizadas no Brasil, são visibilizadas mundo fora ou nas redes, mas nas mídias comercias a gente não vê muito as ações dela e são mulheres muito potente. A gente é realmente invisibilizada, os assassinatos da nossa população são invisibilizados, muito triste dizer que na pandemia, em 2020, no auge da pandemia, ninguém conhecendo nada do processo desse vírus, a polícia do Rio de Janeiro assassinando crianças negras, balas perdidas, a gente teve vários casos de crianças que infelizmente perderam a vida por conta da negligência do estado, sabe, de achar que pode entrar em lugares periféricos e fazer os escarcéu, infelizmente a gente tem mídia que visibiliza muito esse processo, a gente tem aqui vários telejornais que fazem questão de mostrar a polícia entrando na casa de pessoas periféricas negras, visibilizar toda essa violência aos direitos humanos, sabe, quando na verdade é proibido, não se pode fazer esse tipo de abordagem assim, é midiático, isso vende, isso muito triste e o que é para se reportar não se fala, que são as violências, que é cobrado o estado, quando toda uma população é assassinada, quando há um genocídio por conta desse processo, enfim, são todas essas violências que não é não é registrada e quando a gente fala da Amazônia, muito, nossa, é muito muito complicado, porque a gente tem uma invasão hoje em dia, tá acontecendo tanto nas terras indígenas que não são demarcadas quando nas terras quilombolas que também não são demarcadas, terras quilombolas estão sendo invadidas também, pessoas estão sendo expulsas, teve um juiz que determinou a retirada de pessoas quilombola da terra, quer dizer, esse processo de demarcação neste país genocida que a gente tá vivendo é muito complicado, então esse processo de visibilização de populações específicas, como de pessoas travestis, como pessoas negras, pessoas indígenas, está sendo muito séria. Então a gente tem que brigar contra a mídia, contra o estado, para ter a nossa voz ouvida e a gente não vai ter, enquanto a gente tiver um presidente genocida a gente não vai ter nossa voz ouvida, mas enfim, a luta não para a gente tá aí no dia a dia, tentando construir também com a população para não criar esta imagem de que a gente não tem caminhos, não tem possibilidade, e tem: é a comunidade, a união e o olhar coletivo que muda isso minimamente.
CEAF: Eu tenho impressão de que a arte nos permite construir outras narrativas, sabe, por que também tem aquela coisa, quando a gente olha para pessoas negras e para pessoas trans acredito que ainda mais, há muita narrativa de violência, sempre a violência, e as vezes as pessoas são chamadas somente para falar de violência, então, Emilly, você acha que é importante falar de outras coisas que não seja só de violência ou a gente ainda tem que continuar falando somente de violência?
Emilly Cassandra: Não acho necessário, na verdade, a gente, eu pelo menos, é uma coisa que eu tinha conversado com a minha irmã, sobre isso, que a gente tá tentando buscar tanto recontar história de uma forma lúdica, acho que as artes são isso, é ludicidade, eu trabalho arte presente que é o teatro e também com a palhaçaria, sou palhaça, trabalho com essa arte há mais de 10 anos, e a palhaçada é uma coisa que chega de uma forma impressionante, em todas as camadas, é incrível. E aí é isso, né, não levar necessariamente dor, porque a gente sabe, a galera que vive na periferia, que sabe dos processos que ocorrem ali, como eu já tinha falado antes, essas violências, as chacinas, não tá afim de escutar isto, então acho que é importante a gente realmente, por exemplo os poemas que eu levo, um Bruno de Menezes, que é um poeta aqui do estado, já fiz algumas contações dele também, para tentar tirar esse peso, pois parece que só podemos falar de violência, tem temas que não podemos, o amor por exemplo, parece que é algo que a gente é proibido de falar como pessoas negras, sabe, eu fui numa palestra com uma amiga que ela tem um livro todo, na verdade ela tem um livrinho que é todo sobre o amor, e aí as pessoas na palestra eram, ah poxa, eu achei que você ia falar sobre o processo de mulher negra e tal e aí foi a resposta que ela deu, eu achei muito mara, que a gente como pessoas negras, a gente fala para além das dores, claro que a gente sabe que a gente tem dores, quem é que não tem dores, a gente sabe que existe uma série de violências, mas a arte tá para além disso, é importante denunciar, importante usar essa ferramenta que ela é uma ferramenta muito potente, ela abre caminhos para cacete, mas eu sei lá, eu tenho meu processo familiar, eu tenho meu processo de vida, eu tenho meus amores, eu também tenho outros processos, para além da militância política, né?
Eu amo, eu beijo, eu sou amada, eu sinto prazer, e é importante, eu acho que é muito necessário falar disto também, porque senão a gente fica uma metralhadora de dores e isso acaba que nos deixa também com o psicológico fragilizado, porque a gente quer abraçar o mundo com as pernas, a gente quer de fato tornar uma sociedade equânime, a gente quer de fato que acabe com todos esses processos de violências, mas se a gente só falar dele, parece que se a gente acaba também ficando numa bola, num círculo fechado e isso acaba nos causando mal também. Mas é isso, eu tenho fez alguns processos artísticos que inclusive é pra trabalhar, eu e minha irmã criamos um processo que se chama arabirim, é para falar sobre a nossa irmandade, a gente traz elementos como os ibgis, a gente traz brincadeiras infantis neste processo, a gente tenta trazer um processo super lúdico mesmo, porque é isso, a arte, ela é, poxa é tão gostoso. Eu não consigo expressar de fato em palavras o que eu tô sentindo agora, toda vez que eu falo de arte o meu peito se enche, porque é algo onde a gente consegue respirar, toda vez que eu consigo facilitar uma oficina de teatro, facilitar uma oficina de palhaço, eu vejo as pessoas se abrirem de rir, isso é muito gostoso para caramba, isso é engrandecedor. E aí eu vejo que a gente tem muitas dores, mas que a gente tem sabores incríveis também.
CEAF: Qual é a importância do seu ativismo, porque é importante esse processo, porque é importante a sua militância?
Emilly Cassandra: Olha, eu acho que é importante porque a gente consegue, eu acho, que através da militância a gente consegue chegar em pessoas que às vezes não tem o acesso à certas informações, por exemplo, algumas mulheres, aí eu vou focar nisso novamente, algumas mulheres travestis e trans não tem acesso à informação, sobre seus direitos, de denúncia, em uma delegacia física quando são violentadas, acesso à saúde, muitas procura saúde, acesso ä identidade de nome social, ou a retirada de nome civil, que já foi uma decisão do supremo tribunal federal aqui no Brasil. Então eu acho que o meu ativismo para além de levar, porque também eu tô muito nessa perspectiva de volta a arte então tenho feito alguns vídeos para realmente voltar esse processo artístico, porque eu acho que a arte, acho que ela chega de forma muito tranquila, de forma lúdica e potente, ela consegue abarcar várias gerações e falar de um assunto tão complexo e tranquilo, sabe, então eu acho que o meu ativismo é muito mais, enfim, para que as pessoas conheçam de fato minimamente formas de ações, de tomar ações para cobrar o estado, para ter políticas voltadas para ela, enfim, acesso a uma série de coisas, enfim para não enlouquecer também, de conseguir não entrar em depressão, eu acho que eu utilizo o meu ativismo para isso também, para levar informação, porque eu sei que a nossa população tem muito processo de depressão, a gente tem lidado muito com isso, principalmente na pandemia, com pessoas que têm tentando se suicidar e aí eu não tenho formação acadêmica, sei lá, psicóloga, psiquiátrica, então acaba que quando eu vou lidar com as pessoas, sei lá, eu soube de um caso eu vou e corro para casa dessa pessoa e isso acaba que eu me sobrecarrego, então eu sou ativista, mas eu também tenho que ir devagar, então eu tento que encontrar outros pares, outras pessoas que possam e que tenham conhecimento e uma formação sim, para que estejam me acompanhando, e ainda mais no sentido de rede, para tentar criar rede, tentar ter contato, para casos emergenciais, enfim, não sei se eu consegui explicar muito bem.